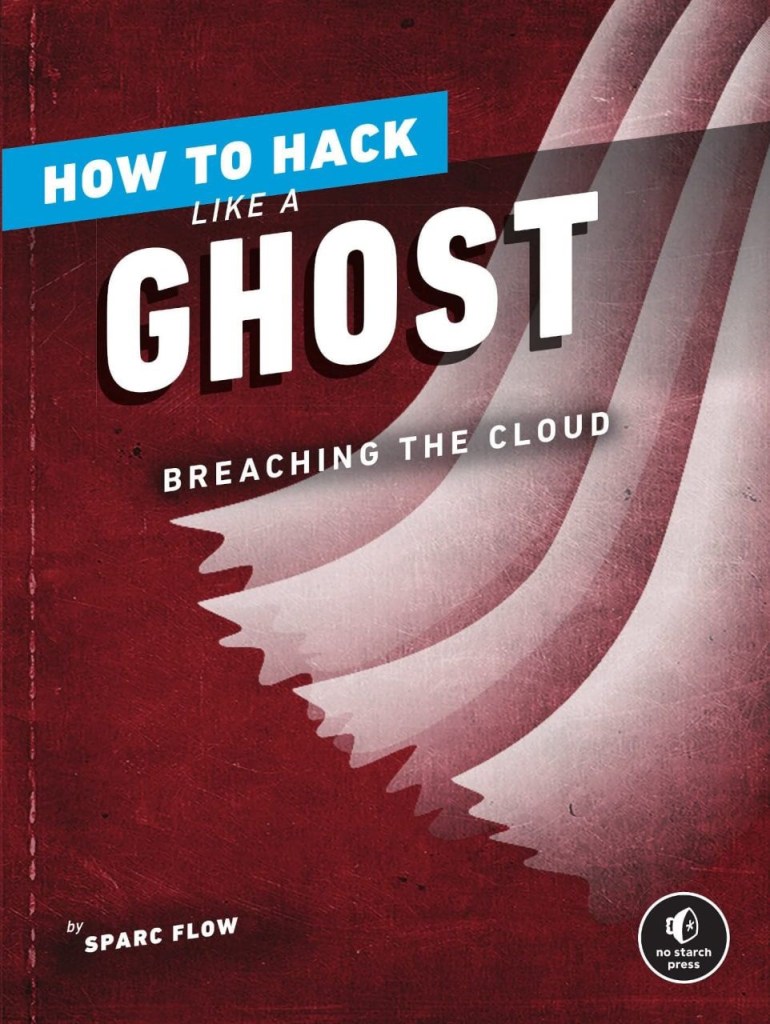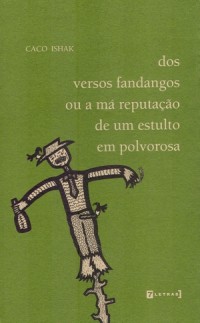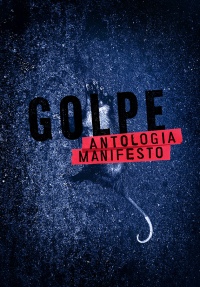Sexta-feira de carnaval e eu novamente na sala de embarque do aeroporto internacional de Belém. “Escreve alguma coisa sobre o relançamento de On the Road no Brasil”, Cláudia Reitberger tinha pedido, dias antes. Escrevo. Aproveito e vou relendo no caminho pra Cuiabá e fecho um pacote só: resenha do livro, exposição da baixocalão e cobertura do festival, além de metade da Minibox Lunar se perdendo comigo estrada abaixo, apertados no carro com mais dois da Vinil Laranja. Carentes de la plata que estávamos ou somos, descer a Belém-Brasília dividindo o tanque por seis parecia ser a opção mais viável pra chegar em nosso destino. Mas só parecia. Não tendo passagens nem pra chegar a Belém, os macapaenses corriam o risco de perder a oportunidade de tocar pela primeira vez pr´além das fronteiras amazônicas. Precavidos, os laranjas trataram de bancar seus bilhetes aéreos, caindo fora já na quinta. A estrada era passado – pretérito mais que perfeito, conjugado na toada de uma marchinha fanfarrona, um ode à vida como ela fora e não como deveria ser, resignação.
Celular toca. “Conseguimos as passagens pela Secretaria de Cultura. Só pra te avisar”. Jj Nuñez, do outro lado da linha e do Rio Amapá, mal dá a notícia e desliga. Resignação? Minha ode à vida, canto na toada de meus dedos num teclado de computador, com ou sem fanfarra – obrigação. Lá se foram minhas economias numa passagem só de ida. Se era pra ser assim, que acabasse sem estradas, nem quarenta horas de dor ao volante. Coloquei os desenhos de Fabiano Gummo e Kael Kasabian debaixo do braço e segui rumo ao aeroporto, com a cara só sono. Se sairia coisa que prestasse do Grito do Rock na cidade pantaneira onde a folia toda começou pelas mãos do Espaço Cubo, não sabia dizer. Levava tão-somente uma certeza na mochila: ia a Cuiabá pra me encontrar com Macapá. O resto era futuro. Ainda que do pretérito.
Uma vez em Hell City – o clima em nada fazia jus à fama: vinte e cinco míseros graus, nublados e secos –, primeira missão já na ponta da agulha: voar pro Clube Feminino, onde o pau toraria dali a pouco, pra organizar as exposições física e virtual da baixocalão. Tinha de encontrar um jeito de chegar à Rua Voluntários da Pátria. “Aqui, ninguém sabe nome de rua, não”, foi logo confessando uma voluntária do Maranhão. Foi visitar a filha. Ficou.
Frustradas as tentativas inicial e algumas seguintes, consegui me deixar a uns cinco quarteirões do destino – e tendo plena noção disso, enfim. Um sorriso maroto foi esboçado. Um cigarro aceso. Um susto tomado. O ronco saiu das profundezas do inferno cuiabano. E o diabo foi escoltado ladeira acima por uns trinta motoqueiros YMCA – de uma senhora chopper (maior que carro popular) abrindo alas na avenida a uma lambretinha das vagaba acompanhando solitária a procissão. “É carnaval, pai?”, ao que o menino de seus quatro anos recebeu um “é, meu filho, agora vamo embora”.
Também fui. Dobrei a esquina e cheguei onde queria. Subi a rampa de acesso em câmera lenta. A trilha sonora da banda que estava passando o som no andar de cima acabou se embaralhando na cabeça e nem deu pra reconhecer nada. Levantei os olhos, o anfitrião e baixista da Macaco Bong, Ney Hugo, encarava sua prancheta ao pé da escada. De seu ouvido, Capilé.
Verborragia ambulante e lenda por façanhas tantas na cena independente, com o Capilé não tem dessa: é na cartilha do dá ou desce. “Pensei que cê não viesse”. Pois digo o mesmo. Mas lá estava, cara a cara com o Presidente da Abrafin, uma espécie de Oz do Pantanal, capaz de tirar de sua engenhoca duas das mais festejadas bandas nos dois últimos anos (Vanguart e os Bongs, ambos de Cuiabá), um festival realizado a um só grito em quarenta e nove cidades brasileiras (mais Buenos Aires e Montevidéu) e o Cubo Card, um sistema monetário paralelo baseado na economia solidária (de deixar Fernando Henrique e Lula, os dois juntos, no chinelo). Dizer que o cara é responsável pelo Calango, um dos gigantes no circuito dos festivais, a essa altura, seria quase nada. O que, por mais lugar-comum que possa parecer e mais ainda que se pareça esta justificativa, acaba levando a uma pertinente questão: WTF´s Capilé? O “W” valendo tanto pra WHO quanto pra WHAT. Não é à toa que estamos falando de um espaço chamado Cubo (Mágico), meu camarada.
Quebrar a cabeça parecia ser rotina por aquelas bandas. Primeira missão mode on. Onde pendurar los debujos? Analisava as possibilidades com cara de perdido, quando Bárbara Rosa, estilista do Coletivo Novo, tratou de me encontrar. Com a ajuda da versão feminina de Beto Lee e responsável pela exposição dos artistas locais, não foi difícil estabelecer um mínimo de organização dentro dos limites de meu campo visual. Algumas outras poucas palavras trocadas e já começava a me organizar também fora dele. Mission accomplished. Ou quase isso.
Os portões ficaram abertos até as dez. Depois, só pagando. Com a ênfase dada pelos seguranças na porta, o clima era de barrados no baile, sem o glamour e o final feliz de Hollywood. Crianças choravam pra economizar os dez pilas da breja – outros choravam pra sair e fumar em paz um cigarro na rua. Em Cuiabá é assim. Mão no freio, pé no estribo. Cavalo brabo não se cria.
 De resto, cria-se de um tudo. Terra das boas, essa, rapaz. O guitar hero Bruno Kayapy, da Macaco, que o diga. Mal precisei pedir, já veio me dando provas de que não tem disso de quintal de Goiás, não. “Aqui se planta, aqui se colhe”. Kayapy é discípulo fervoroso de Capilé. Tem um cubo tatuado no braço, tamanha é a crença na filosofia “artista igual a pedreiro” – tal qual os demais da banda. Enquanto corria como diretor de palco, Ney botava a transmissão via web pra funcionar e Ynaiã Berthroldo, ordem nas bilheterias. Todos exerciam suas funções sem arredar os pés de seus postos – a não ser que fosse mesmo necessário.
De resto, cria-se de um tudo. Terra das boas, essa, rapaz. O guitar hero Bruno Kayapy, da Macaco, que o diga. Mal precisei pedir, já veio me dando provas de que não tem disso de quintal de Goiás, não. “Aqui se planta, aqui se colhe”. Kayapy é discípulo fervoroso de Capilé. Tem um cubo tatuado no braço, tamanha é a crença na filosofia “artista igual a pedreiro” – tal qual os demais da banda. Enquanto corria como diretor de palco, Ney botava a transmissão via web pra funcionar e Ynaiã Berthroldo, ordem nas bilheterias. Todos exerciam suas funções sem arredar os pés de seus postos – a não ser que fosse mesmo necessário.
Quando do desfalque da primeira banda da noite, Marthyrium (AP), por exemplo. Não tem banda pra tocar? Não tem gente pra assistir porque não tem banda pra tocar? SuperCubo, ativar. Macaco Bong neles. As janelas abertas levavam o apocalipse sonoro do palco pras ruas. Adolescentes que tinham entrado de graça antes das dez mandavam mensagens de seus celulares pros coleguinhas. De tijolo em tijolo, pagante a pagante, o trio dourado de Capilé repassava o legado adiante: vão e pegam o touro pelos chifres.
E que tourada. Ney Hugo masturbando seu baixo, entre sussurro e outro de Barry White em seus quadris, cadenciava a sopa brazuca noise jazzy roots acompanhado por Ynaiã, versão Seu Jorge + Jar Jar Binks batucando que nem Carlinhos Brown, três vezes mais macho – um cavalo trotando, só que com a majestade de um puro sangue. Coice elegante, mas porrada do mesmo jeito. “Não sabia que três caras numa banda pudessem tanto”, as I´ve heard once. Kayapy provoca a rapeize. Não é todo festival que pode se vangloriar de abrir com o melhor disco de 2008, segundo a revista Rolling Stone.
Metade do show e o público tinha dobrado, ainda que imperassem emos mandando o dedo do meio pras câmeras após um tchauzinho. Já dava pra começar o festival pra valer. Tocar depois dos Bongs, porém, requer cautela. Com muito caqueado nos vocais, a Leão Sem Dentes (MT) subiu ao palco apenas pra não deixar a moçada esfriar com seu som mezzo Bon Jovi mezzo rock nacional 80´s.
Com a chapa ainda quente, não custou pra Vinil Laranja (PA) tomar conta da festa com os gritinhos do vocalista Andro Baudelaire. Verdade seja dita, o público ficou meio acanhado de início. “Esse é fresco”, soltou um from the uk. Fresco? Um dos psychos da holandesa Cenobites, que fecharia a noite, passeava pelo salão com uma mulata a tiracolo. Largou a mulher pra ver os moleques de perto. Seu colega de banda se aproxima: “damn, let´s drink”. Resposta: “I´ll just stay a little longer”. Fresco é o caralho. Emo não deve sacar esse tipo de coisa, mas aquilo era rock´n´roll. A poucas semanas de embarcar rumo ao Texas pra tocar no Festival SXSW, os moleques sub-21 da Vinil atiravam com munição pesada a lição de casa entre um comentário sem-noção e outro de Andro: “Quem já fez cocô?”, “vocês viram minhas botas? Meu pai me deu”. Americanizado? Como o próprio costuma dizer, já vivemos nos Estados Unidos virtual, baby.
Os donnuts, no entanto, podiam esperar. Com pinta de poeta lésbica da Rua Augusta, a frontlady Niela comandava os moleques doidos da Gloom (GO). Sady Menescal, que tinha acabado de chegar com o resto da Minibox, gamou de cara. “É a segunda vez que ele se apaixona hoje”, dizendo Jj. “Isso, porque nem tá no metrô de são Paulo”, cutuco. Sady resmunga: “Avril Lavigne, isso”. Mamãe já dizia, quem desdenha quer comprar. Inda por cima se dança com a música – ska com um quê da portuguesa Drugstore mais 60´s clássico e Beatles fase Abbey Road, fora uma pitada de Chico em Saltimbancos. Ah, sim. Tudo isso na levada de uma dupla de metais, que púutaquiospariul… viva o cerrado. Miro Sady – calado. E penso no quanto pesa um peso-pesado. Pra quem quase não pôde ir, a responsabilidade de tocar transcendia o palco.
Quem é da terra, por outro lado, carrega numa nice a responsabilidade de tocar mesmo que sozinho. Ebinho Cardoso (MT) perdeu seu trio pelo caminho e deixou todo mundo quietinho na platéia. Toca bem seu baixo de cinco cordas, o moço… mas não é o mais indicado prum festival do gênero. Como se me desse uma bofetada na cara, o Rei Momo subiu logo em seguida e deu a letra: “o carnaval de Cuiabá é multicultural”. Ok. My fault. Só que o povo queria rock. E Valdez (DF) atendeu à voz do demo. Com pegada grunge e levada Hives, ninguém chegou a uma conclusão quanto à semântica dos caras. “Nossa musica é um blues rock”, definiu o vocalista – de fato, John Spencer selado. Mas a pendenga persistia: “Esse cara é mais fã de Queens of the Stone Age do que eu”, suspirava Andro. Influências às cucuias, importava era que, mesmo com toda a distorção testemunhada pelo público, faltava ainda uma guitarra – tinha dado pau na caixa. O que me obriga a reiterar, coçando os bigodes: viva o maldito cerrado.
Mas se Deus está com eles, quem há de ir contra? God save Aberdeen, momma. No backstage, a Minibox Lunar (AP) se preparava, cada um a seu modo, pra subir no palco. Jj amarrava os cadarços de seus coturnos (escondidos sob a manta indiana) enquanto Alexandre lhe fazia massagem nas costas – toda habilidade com as mãos prum guitarrista é pouca. Helô Quintas e Otto Ramos se protegiam numa quina escura, quase como se orando em silêncio. Sady tomava ar do lado de fora e Taiguara… bem. Tai já estava na bateria fazia tempo.
 Talvez, tanto tempo quanto eu havia esperado pra ver a Mini-Mini tocando de cima. Cinco meses tinham se passado desde a última e única vez. Em cinco meses, a terra dá aproximadamente cento e cinqüenta voltas em torno de si. Do espaço, dependendo da distância, pode ser ainda mais. Em cinco meses, muita coisa muda. Pra pior ou, como no caso deles, pruma bem melhor. Em cinco meses, Otto conseguiu orquestrar o grupo e construir arranjos maduros, fechados. Alexandre carregou mais peso à guitarra. Em cinco meses, a Minibox Lunar ficou nos trinques pra enfrentar o mundo. Começar por Cuiabá estava de bom tamanho, though.
Talvez, tanto tempo quanto eu havia esperado pra ver a Mini-Mini tocando de cima. Cinco meses tinham se passado desde a última e única vez. Em cinco meses, a terra dá aproximadamente cento e cinqüenta voltas em torno de si. Do espaço, dependendo da distância, pode ser ainda mais. Em cinco meses, muita coisa muda. Pra pior ou, como no caso deles, pruma bem melhor. Em cinco meses, Otto conseguiu orquestrar o grupo e construir arranjos maduros, fechados. Alexandre carregou mais peso à guitarra. Em cinco meses, a Minibox Lunar ficou nos trinques pra enfrentar o mundo. Começar por Cuiabá estava de bom tamanho, though.
Com seus olhos Maysa, alma Baby Consuelo e timbre Nara Leão, Helô se apresentou pro combate qual uma pomba-gira, toda iluminada. Jj mantinha seu semblante blasé, encarnando um duo entre Dolores O´Riordan e Patti Smith. As duas igualmente adoráveis, porém, cantando a uma só voz o drunk folk “Despertador”, ao tempo em que Otto fazia as vezes de equilibrista ébrio em suas teclas, pianinho. “E já que é carnaval, uma marchinha”, manda Helô, emendando no quase afoxé “Amarelasse”. E já que é do Norte, um brega – s´il vous plaît. Prontamente, mandam “Discos do Odair” (bem mais que um brega, uma releitura do clássico “Vapor Barato”).
O show podia ter acabado ali. O soco no estômago estaria dado. As borboletas já teriam voado goela afora. Restaria tão-somente a carcaça e um suspiro após o último trago. Não seria o fim, no entanto, se não acabasse de uma vez, ali mesmo. “Onde andará você?”, perguntava-se ao microfone em “Gregor Samsa”. Fui me encontrar numa peça encenada na quarta série, quando interpretei Visconde de Sabugosa e, ao pular em cima de uma mesa, deixei cair os binóculos que nela estavam. Como se precisasse deles pra continuar o ato e desconcertado demais pra catá-los no chão, improvisei duas lupas com as mãos. Fui me encontrar em cima do palco, na imagem de Jj catando seu microfone do chão e improvisando com seu corpo o pedestal que havia deixado cair. “Joaninhas espalham bolinhas pelo ar / confetes e serpentinas / insetos engraçados me emprestam suas asas / mas só você é quem sabe voar”. É nos tropeços que se constrói a identidade de uma banda.
 Assim como é nos tropeços que construímos nossa própria identidade. Por metade de meus vinte e sete anos, esperei ver meu primeiro show internacional. Várias foram as oportunidades, mas ou estava bêbado demais ou já dormindo ou trabalhando ou numa cama de hospital. Mato Grosso me deu de brinde o que tanto queria. Cenobites, direto da Holanda. E, porra, psychobilly dos infernos de Hitler, com direito a baixo acústico pra socar no cu do Momo. O Clube Feminino foi abaixo. Quanto a mim… dei as costas na quarta música e voltei pra área onde a baixocalão estava expondo.
Assim como é nos tropeços que construímos nossa própria identidade. Por metade de meus vinte e sete anos, esperei ver meu primeiro show internacional. Várias foram as oportunidades, mas ou estava bêbado demais ou já dormindo ou trabalhando ou numa cama de hospital. Mato Grosso me deu de brinde o que tanto queria. Cenobites, direto da Holanda. E, porra, psychobilly dos infernos de Hitler, com direito a baixo acústico pra socar no cu do Momo. O Clube Feminino foi abaixo. Quanto a mim… dei as costas na quarta música e voltei pra área onde a baixocalão estava expondo.
Passava das quatro no horário local e quase amanhecia em meu relógio biológico. Por mais que tentasse esboçar palavra que fosse com Bárbara, não conseguia sequer agradecer pela força na exposição depois de umas quarenta horas em claro. Catei os desenhos e desapareci no mundo, vendo o sol raiar da rua. Caminhando sem rumo, encontrei dois sofás jogados na calçada, de frente pruma casa abandonada. Pensei seriamente em capotar por ali mesmo. Mas avistei, logo no outro quarteirão, um neon que indicava pernoite (sic) a quarenta pilas. Dormi até as quatro da tarde seguinte.
Já não se fazem beatniks como nos velhos tempos.
ONE LAST BEER IN HELL
Correria pré-segunda noite de festival. Tinha menos de três horas pra preparar a exposição virtual da baixocalão. Sem um computador ligado ao datashow, o arquivo preparado no PowerPoint de nada me valia. Teria de salvar novamente imagem por imagem, jogá-las todas no Movie Maker e me coçar pra aprender na marra a fazer o arquivo rodar num aparelho de DVD – tosco como só o diabo gosta, PC pra mim é editor de texto deluxe e olhe lá. With a little help from my friend Gustavo Godinho, via sms – and the new ones, os cubistas Thiago Dezan, Dríade Aguiar e Caju Medeiros dando o caminho logístico das pedras, um jeito não tardaria a aparecer. Longe de mim desapontá-los e meu recém-depenado bolso. A distância pra que isso acabasse acontecendo, porém, encurtava-se a cada nova tentativa em vão de baixar um programa que desse conta da missão.
Entre um download e outro, folheava Kerouac e entornava uma gelada no escritório do Clube Feminino pra compensar os shows que estava perdendo no andar de cima. Passadas duas horas desde o início da programação, Lothus (DF) e Di Marco (RO) já tinham deixado sua marca no palco. Pude acompanhar dois minutos da Kallima (MT), o que quase me fez prometer não levar sequer um lápis ao próximo festival que fosse, de tão invejável que era o clima entre os que estavam lá simplesmente pra curtir – no me gusta essa culpa cristã no coração. Desci as escadas de cabeça baixa, rangendo os dentes e decidido a tentar uma última vez.
“(…) the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes ´Awww!´. What did they call such young people in Goethe´s Germany?”.
Vinte e cinco minutos pro arquivo estar ao alcance de dois cliques, penso ver um hobbit passando pelas janelas da sala onde estava, atravessando o corredor, cruzando a porta e vindo parar diante de mim. E penso cá com meus botões conhecer aquele hobbit de algum lugar. Só que hobbits, bem sabia, não existiam. Nem existem. Penso, então, que devia ter escutado o que mamãe dizia (cuidado pra não colocarem roupinol na tua bebida, hein, meu filho… fica esperto!), mas penso logo em seguida que roupinol não deve dar alucinação e nem com sono eu estava. Pra não ter erro, achei por bem estabelecer contato. “Tá perdido?”.
Não estava. Nem era hobbit ou alucinação. Aos dez anos, o irmão mais novo dos Dezan fugia do Juizado de Menores. “Mas meus pais estão aí, será que tem problema?”. Foi o moleque ficar na bilheteria cinco minutos enquanto papai e mamãe Dezan davam uma força no andar de cima, pros agentes aparecerem. “Fiquei encolhido atrás da Caju, nem me viram”. Pára a festa. Tensão. “Lá nos fundos, tem um banheiro. Corre lá”. Acobertava um fugitivo. Ganhei tempo, por outro lado, pra gravar a apresentação a tempo da Linha Dura (MT), de última hora na escalação, estrear a exposição virtual na levada dos riffs entrecortando o vocal quebrado da batida hip hop – melhor, impossível. Ainda que com a marca d´água “Trail Version” no telão. Nem toda arca é de Noé em primeiro dilúvio.
Passada a tempestade, pude finalmente pedir pinico e reencontrar Sady e Jj e recebermos de braços (dedos, lábios, correntes) abertos o arco-íris. Fusion do messianismo contracultural dos anos 70, moda de viola, ala punk da Jovem Guarda e ecos de Zé Ramalho, os tiozões da Vadaluz (MT) eram praticamente uma versão Minibox Lunar old school. O trio de comentaristas entrava de novo em ação. Sady me puxa: “Ei, ei, é a Mini-Mini velha, só tá faltando a Helô”. Resposta: “Na verdade, falta Jj. Morreu antes da fama”. Ela: “Aos vinte e sete”. A bateria: tchurupá! Antes ficarmos calados e prestarmos atenção na prata da casa emendando um country foda de saloon e eita noise. Ríamos na cumplicidade dos olhares que miravam o futuro num misto de deslocamento e pânico. As cortinas começavam a derreter. Escoamos cada qual prum lado. Good night, Cinderella.
Acabei me refazendo numa poça de frente pro palco. Talvez, na esperança de que a lenda procedesse e a vacina do sapo que deu nome à banda Filomedusa (AC) fosse mesmo capaz de afastar o azar e a falta de coragem. Nem porra. Ali, sozinho, analisando cada singularidade nos traços indígenas com franja Ronnie Von e pose Charlie Watts do batera Thiago Melo, no jeitão Ney Hugo do Planalto de tocar o baixo do Presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Cultura, Daniel Zen, e nos timbres retrôs da guitarra de Saulinho, versão Joel Melo (da paraense Suzana Flag) desbotado, ali, sozinho, não tive muita opção senão me deixar levar pelos wormholes do esquecimento, de carona na voz de Carol Freitas, voando baixo, “num rasante, minha dor”.
“Pra mais ou pra menos? Meio-dia em Brasília, onze horas lá?”, Tai dá um chega pra lá em meu amigo imaginário, encasquetado com um comentário de Carol sobre o fuso-horário em Rio Branco. Olho pro Taiguara e vejo o Ringo. Pintou o quadro do Braço Norte do Circuito: ainda meio perdido, desnorteado, não se entendendo lá muito bem, mas correndo atrás e derretendo os miolos pra mudar as coisas. Aprendendo com quem está na labuta faz mais tempo.
 “Essa é a matriz!”. Baiano, da local Anhangá, berrava ao microfone. A penúltima banda da noite e que, com seu discurso social martelado num crossover à la Madame Saatan com Van Diesel nos vocais, ensinou o bê-á-bá (eat me) pra molecada e pra muito marmanjo de bobs ali e por aí também. “Quero ver roda punk!” – e a roda girou. Essa é a motriz. A que supera modismos e crises econômicas e leva os festivais adiante. No fim das contas, quando os quinze minutos de fama se esvaírem, restarão os seqüelas e portas-bandeira. É pra eles que uma cadeia está sendo consolidada. “Hora de mensagem subliminar, nem tudo é real nessa porra”. Ouço do cara ao lado um “mensagem subliminar?” e gargalhadas. Dou de ombros. Nem tudo pode ser levado tão a sério no rock. A penúltima cerveja.
“Essa é a matriz!”. Baiano, da local Anhangá, berrava ao microfone. A penúltima banda da noite e que, com seu discurso social martelado num crossover à la Madame Saatan com Van Diesel nos vocais, ensinou o bê-á-bá (eat me) pra molecada e pra muito marmanjo de bobs ali e por aí também. “Quero ver roda punk!” – e a roda girou. Essa é a motriz. A que supera modismos e crises econômicas e leva os festivais adiante. No fim das contas, quando os quinze minutos de fama se esvaírem, restarão os seqüelas e portas-bandeira. É pra eles que uma cadeia está sendo consolidada. “Hora de mensagem subliminar, nem tudo é real nessa porra”. Ouço do cara ao lado um “mensagem subliminar?” e gargalhadas. Dou de ombros. Nem tudo pode ser levado tão a sério no rock. A penúltima cerveja.
“There´s always more, a little further – it never ends. (…) They writhed and twisted and blew. Every now and then a clear harmonic cry gave new suggestions of a tune that would someday be the only tune in the world and would raise men´s souls to joy. They found it, they lost, they wrestled for it, they found it again, the laughed, they moaned”.
“Caco, Caco, Sady tá passando mal”. No caminho pra kombi, Bruno Folha, baixista da Vinil Laranja, foi me contando, enquanto comia seu cone de pizza (na boca de todo o festival, aliás, por cinco pilas a dose), sobre as aventuras de seu par (versão Gordo e Magro amazon-indie), desmaiado nos bancos de trás e rodando pela cidade como bibelô de luxo na carruagem de Carol Freitas e Ludov (SP), banda que fecharia a noite. Como se Sady estivesse apenas jogando xadrez com a Morte, numa badtrip de rotina, usei uma camiseta da Minibox Lunar como cobertor pra cortar a liga-torta do frio e, depois de algumas palavras de consolo, voltei pra dentro.
Não durei muito por lá. Acompanho a Ludov desde que eram Maybees apenas e nada mais – conhecia de cor a melancolia da voz de Vanessa Krongold. É música que toca na MTV e te faz lembrar o dia-a-dia de algum lugar no passado e faz bater a sensação de que, sim, chegamos. Só não sabemos bem onde. E, se chegou, time to go. Na saída, Mauro Motoki contava histórias de como tinha conhecido o povo da Vanguart e, agora, “o Bruno, do Macaco Bong, que conheci lá atrás e de quem sou fã. Foi bom demais”. Kayapy, no meio da calangada, cumprimentava os que um dia conheceram “Helinho” (Flanders). E som na caixa. Como se tocadas na rádio fossem, que continuassem assim. Pano de fundo. Voltei pra fora.
O festival chegava ao fim – ao menos, pra mim. Tinha de estar em Belém antes da Quarta-feira de Cinzas e a balança time/money não ajudava pra que pudesse sequer pensar em ficar pra ver um dos melhores espetáculos do Circuito, Daniel Belleza e os Corações em Fúria (SP), no dia seguinte, muito menos pra acompanhar o Enterro dos Ossos no fim da semana que começava naquele domingo de carnaval. Fora o peso nas costas e consciência, que me dava o aspecto de um velho aos vinte e sete anos. Like a Drama Queen, carregava o fardo de fazer parte da primeira geração adulta pós-Cobain no meio da molecada de dezesseis, vinte.  Como se os minutos na profecia de Warhol seguissem o modelo bíblico e valessem, na verdade, os quinze anos entre uma geração e outra.
Como se os minutos na profecia de Warhol seguissem o modelo bíblico e valessem, na verdade, os quinze anos entre uma geração e outra.
“Bora chegar lá e falar ‘Ê, Capilote, dá uns Cubo Card aê’”, Folha dava idéia a Sady, recém-retornado a Cuiabá. Um bom retrato do que pode vir. A melhor maneira de prever o futuro, já diria o Sr. Orkut, é inventar. Em 2007, Vanguart. Macaco Bong em 2008. Sem banda madura o suficiente pra dar continuidade à novíssima tradição pantaneira, está aberta a bolsa de apostas pra ver quem será a menina dos olhos de Capilé em 2009.
Tivesse a chance, uma única palavra, teria ficado. O silêncio tratou de catar minha mochila e de me dar um chute pra fora dali o quanto antes, sem despedidas nem arrependimentos. Sady me encarava como, um dia, talvez Kerouac tivesse encarado Cassady.
“Okay, old Dean, I´ll say nothing”.
E tomei o rumo da roça, levando na garganta o sabor amargo de um último gole e a melodia de uma canção ainda não escrita, que dizia mais ou menos o seguinte:
os ídolos passam / a vida continua
.:.
(originalmente publicado na Rockpress em março de 2009)